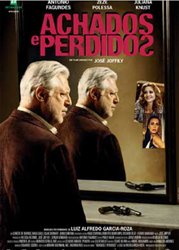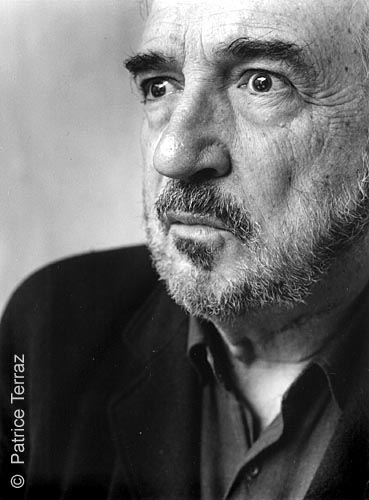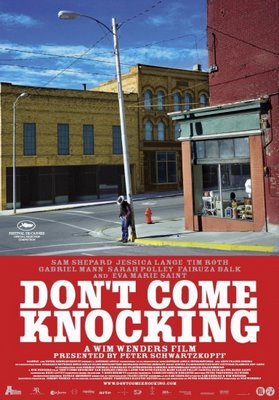A princípio, as cenas poderiam estar em qualquer canal. A atriz é uma loura bonita, de traços particularmente suaves. Não é uma grande atriz, mas é correta. A iluminação é impecável, o cenário não parece cenário. O ator também é correto e há drama na cena. Ele já está perante aquela massagista, uma mãe solteira que luta para sustentar o filho, pela terceira vez. Quer um toque a mais. Ela tem quase raiva de estar tentada a aceitar o dinheiro de que precisa.
Não é um roteiro excepcional, mas quem flagrasse a cena poderia perfeitamente confundir com um filme feito para a tevê. O acabamento é bem melhor do que boa parte das séries enlatadas, bem melhor do que novela, tudo foi capturado em película, não em vídeo. Não é cinema para Oscar – muito menos Berlim ou Veneza – mas é melhor que muito filme B. Só que aí a moça despe a calça do sujeito e o engole. Chama-se "A massagista", de 2004, a atriz é Jenna Jameson, a maior estrela pornô de todos os tempos.
Há uma história, as cenas de sexo explícito cabem num contexto e não acontecem a intervalos curtos e regulares, o acabamento é profissional, a maquiagem não é exagerada e as pessoas são todas bonitas. É um tipo raro de filme pornô, obra de um homem: Steve Hirsch, fundador da produtora Vivid. Ele é, praticamente sozinho, responsável por uma aura de legitimidade que o cinema pornográfico começa a angariar. É também um ferrenho inovador.
Agora em maio, Hirsch dará mais um passo inovador: vai vender seus filmes para download via Internet. Funciona de forma simples: o cliente paga um dinheiro com seu cartão de crédito e tem a permissão de baixar um arquivo imagem. Esta imagem, gravada num DVD-R, produz um DVD igualzinho ao comprado na loja, com menus, extras, comentários do diretor e o que mais for. É uma estratégia ousada. Afinal, esta imagem pode ser copiada quantas vezes for. Mas ninguém sofre mais com a pirataria de filmes do que o cinema pornô – e Hollywood está de olho na experiência de Hirsch. Pode ser seu caminho.
Para Hirsch, um homem de 45 anos que gosta de vestir camisas com um ou dois botões abertos e usa pulseiras de ouro, esta é uma simbiose que faz parte da vida. Ele aprende com Hollywood. Em 1984, com 20 mil dólares emprestados, fundou a Vivid com uma idéia fixa na cabeça: contratar Ginger Lynn. Na época, ela era a mais badalada atriz do ramo. Mas o que Hirsch queria fazer, ninguém fazia. Para filmes triplo-x, contratavam-se atores e atrizes por cena. Uns ganhavam mais, outros menos, mas o dinheiro era por cena. Hirsch queria exclusividade por alguns anos em troca de salário fixo e participação nos lucros. Queria recriar um star system.
Hollywood começou assim: a Metro tinha suas estrelas exclusivas, como a Warner ou a Fox. Uma Mary Pickford ou um Charles Chaplin tinham contratos de produção de tantos filmes em tantos anos, atores não trabalhavam para quem quisessem. Em troca, os grandes estúdios investiam pesadamente em suas imagens – transformavam-nos em estrelas. Meio século depois, Steve Hirsch queria fazer o mesmo com o cinema pornô.
Seu projeto era bem mais ambicioso: ele queria ampliar o mercado do cinema erótico – mas isto tudo faz parte de sua história. Em 1971, seu pai, Fred Hirsch, e a mãe Roberta, chamaram o pequeno Steve e sua irmã mais velha, Marcie, para uma conversa. Fred era corretor da Bolsa, mas tinha recebido uma proposta para ser vendedor de filmes pornôs e queria aceitar. No tempo, este era o tipo de coisa que se via no cinema, quase sempre cinemas sujos em cantos sinistros da cidade.
Quando veio o videocassete e o conceito de aluguel de filmes, tudo mudou. Hollywood apavorou-se; afinal, aquilo permitiria que cópias de seus filmes se espalhassem pelo mundo sem que um tostão de direitos autorais revertesse aos estúdios. Mas, para o cinema adulto, era notícia boa. Um grupo de clientes interessados poderia assistir a seus filmes em casa e não numa sala mofada com gente estranha. É uma lição que a família Hirsch aprendeu rapidamente: a tecnologia é sua amiga. Fred largou o serviço de vendedor e começou sua própria produtora de vídeos, na qual ele, sua mulher e os dois filhos trabalharam arduamente.
Ao longo dos anos 80, também Hollywood descobriu que os vídeos não eram uma ameaça e sim uma portentosa fonte de renda – até maior do que a das salas de exibição. Mas, a essas alturas, Steve já era bem mais ambicioso do que o pai. Se os vídeos haviam ampliado o público potencial, não tinham feito o bastante. E ele parou para destrinchar o porquê.
Grande parte do problema ainda tinha a ver com o que prevenia público de ir às salas de cinema mofadas: não falta de interesse, mas excesso de pudor. E, se apanhasse uma das capas dos filmes de seu pai, com cenas espalhadas de sexo, muitas cores, confusão e nomes que em geral envolviam trocadilhos fáceis, ele bem conseguia entender. Uma capa mais discreta atrairia mais clientes. Mas o cuidado no acabamento tinha que ir além da capa mais discreta.
Porque, ele pensou, era preciso conquistar o público feminino. Muitos potenciais compradores sentir-se-iam constrangidos em ter um filme destes em casa, onde a mulher poderia descobri-lo. Se, no entanto, a mulher se interessasse – se fosse um filme normal, com pessoas bonitas e cenas comportadas de sexo cuidadosamente salpicadas, o público seria bem maior. E para garantir esta qualidade, precisava de estrelas que pudesse alçar a um patamar diferente das outras estrelas pornôs. Precisava ter total controle sobre suas carreiras para que parecessem mais respeitáveis. Precisava evitar que participassem de produções rasteiras demais. Um star system, enfim.
A Vivid deu certo de largada e Steve ficou rico, rodou por tudo quanto é festa possível até que, em 1988, teve de parar e gastar uns meses numa clínica para recuperação de toxicômanos. Não controlou a cocaína – desde então, está limpo, um limpo que inclui álcool zero. Não deixou de crescer por conta: os anos 90 foram marcados pela tevê a cabo, o cliente não precisava mais ir a uma locadora, poderia assistir ao filme em casa, de maneira ainda mais discreta.
E aí ele percebeu que eram clientes diferentes. Há o sujeito que não tem coragem de assinar a um canal de sexo, mas busca a nudez em quantidade; há o executivo entediado numa noite de hotel; há o aficcionado hard core. Então, cada filme que a Vivid produz tem três edições. Numa, a penetração jamais aparece e canais a cabo de cinema podem passá-lo de madrugada; para os hotéis, há penetração, mas é tudo sempre muito comportado – cenas de sexo anal, de ejaculação, estas praticamente só em DVD ou canais de sexo que o sujeito escolhe assinar em casa. Desta forma, a empresa produz 12 filmes por ano, mas chega a soltar 150, incluindo compilações de cenas para os fãs mais ardentes.
Em 1999, a Vivid comprou da Playboy o canal a cabo Hot, apostando que o mercado caseiro explodiria. Não repassou um tostão à vendedora, simplesmente assumiu uma dívida de 25 milhões de dólares. Quando o revendeu para a Playboy, três anos depois, a audiência tinha quintuplicado e Hirsch embolsou 400 milhões de dólares, além de um contrato de fornecimento de conteúdo.
 Mas a estrela que chegou mais longe, que fatalmente mudaria o rumo da empresa, não foi Hirsch quem descobriu, foi a Wicked. Fundada em 1993, a Wicked seguia cautelosamente a fórmula da Vivid. Em 1994, contratou uma jovem stripper de 20 anos, filha de um policial de Las Vegas, chamada Jennifer Marie Massoli. Era Jenna Jameson. No primeiro ano de serviço, Jenna levou seu primeiro prêmio. No segundo, angariou as principais estatuetas da indústria. Jenna era bastante bonita, sabia atuar de forma correta – não muito diferente de muita estrela da Hollywood oficial – e agia como um furacão na cama. Repentinamente, a maior estrela do ramo não estava na folha de pagamento da Vivid.
Mas a estrela que chegou mais longe, que fatalmente mudaria o rumo da empresa, não foi Hirsch quem descobriu, foi a Wicked. Fundada em 1993, a Wicked seguia cautelosamente a fórmula da Vivid. Em 1994, contratou uma jovem stripper de 20 anos, filha de um policial de Las Vegas, chamada Jennifer Marie Massoli. Era Jenna Jameson. No primeiro ano de serviço, Jenna levou seu primeiro prêmio. No segundo, angariou as principais estatuetas da indústria. Jenna era bastante bonita, sabia atuar de forma correta – não muito diferente de muita estrela da Hollywood oficial – e agia como um furacão na cama. Repentinamente, a maior estrela do ramo não estava na folha de pagamento da Vivid.Virou a obsessão de Steve Hirsch, que só conseguiu contratá-la definitivamente em 2002. Jenna assinou contratos de publicidade até com a Adidas – fez-se a primeira estrela pornô a ser vista como legítima o bastante para não chocar ninguém pelo ramo que atua.
Quando, no dia 8 de maio, Steve Hirsch começar a vender seus filmes pela Internet a 19,95 dólares cada, Hollywood estará atenta. Ele já fez muita coisa antes inimaginável – com sucesso!