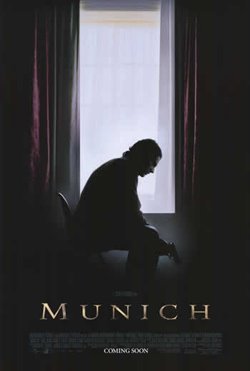
Cineasta de maior sucesso comercial da história, Steven Spielberg sempre foi um mestre da narrativa cinematográfica e da manipulação das emoções do espectador. Mas sua obra nunca atingiu a maturidade completa por conta de algumas deficiências do diretor. Primeiro, uma visão inocente do mundo, uma perspectiva infantil que domina mesmo seus filmes adultos, uma divisão um tanto maniqueísta de personagens entre vilões e mocinhos.
Depois, há o enorme desequilíbrio entre os elementos espetaculares e os intimistas em seus filmes. Para cada brilhante seqüência de ação, em que ele demonstra domínio completo da arte de combinar sons e imagens, existe uma constrangedora cena sentimental, que revela uma compreensão pouco profunda dos dilemas e contradições humanas.
Com “Munique”, que estréia hoje no Brasil, Spielberg superou boa parte desses problemas e realizou seu filme mais maduro até hoje (não o mais essencial, posto que permanece ocupado por “Tubarão”). O cineasta virou, enfim, gente grande.
Baseado no livro “A Hora da Vingança”, de George Jonas, o filme acompanha a missão de cinco agentes secretos para eliminar os terroristas palestinos responsáveis pelo assassinato de 11 atletas israelenses nas Olimpíadas de Munique, de 1972. Segundo essa versão, a ação foi determinada pela então primeira-ministra Golda Meir, mas foi planejada para não deixar rastros que a ligassem ao governo de Israel.
Liderados por Avram (Eric Bana), filho de um herói de guerra israelense e pai de uma menina recém-nascida, o grupo inicia sua missão com sucesso, matando alguns dos líderes do Setembro Negro, grupo terrorista que estava por trás dos atentados. Aos poucos, porém, Avram entra em crise de consciência e passa a questionar se essa política de “olho por olho, dente por dente” é a melhor maneira de combater o terrorismo.
Spielberg deixa muito claro que busca um paralelo entre aquele momento – o atentado em Munique foi um marco histórico por levar o terrorismo ligado à questão palestina para fora dos domínios de Israel – e a realidade atual – com a guerra ao terrorismo desencadeada pelo governo americano depois dos atentados de 11 de Setembro. Se alguém duvidar de que essa é a intenção do cineasta, basta ver que prédios aparecem ao fundo na cena final do filme.
Comentários metafóricos sobre o presente norte-americano vêm sendo a tônica dos últimos filmes de Spielberg. Em “Minority Report” (2002), o cineasta critica a condenação de pessoas por crimes ainda não-cometidos, em um ataque indireto à política de Bush que incentiva a prisão de suspeitos sem julgamento. Em “O Terminal” (2004), ele questiona os limites impostos à circulação de estrangeiros nos EUA, em uma censura às restrições das liberdades civis também determinadas pelo atual governo.
Já em “Munique”, a grande pergunta colocada por Spielberg é: o terrorismo deve ser combatido com a mesma moeda da violência ou deve ser enfrentado com armas políticas e diplomáticas, os Estados podem reproduzir a mentalidade dos inimigos ou precisam buscar uma atitude superior? É uma questão válida para o governo israelense de 30 anos atrás e para o americano de hoje, para a moral judaico-cristã e para a protestante.
O fato de o cineasta mais famoso do mundo falar de questões urgentes da atualidade, em vez de criar mais uma fábula escapista, é salutar por si só. Mas, em “Munique”, seus méritos vão além da escolha do tema e chegam ao tratamento da história, que alcança uma complexidade inédita de sua obra.
Para começar, o cineasta elege como protagonista um homem em crise de consciência, muito diferente dos heróis sem hesitações dos filmes anteriores. Talvez pela primeira vez em sua carreira ele prefere fazer perguntas do que oferecer respostas prontas. Depois, ele dá voz não apenas aos israelenses, como também aos palestinos, sem igualar os crimes cometidos pelos dois lados no caso de Munique (ao contrário do que prega parte da crítica).
Por fim, o diretor chega a um equilíbrio notável entre o Spielberg espetacular, nas seqüências de assassinato dos terroristas, e o Spielberg intimista, nos dramas pessoais dos agentes secretos. Para tanto, deve ter sido importante a colaboração do dramaturgo Tony Kushner, de “Angels in America”, no roteiro.
Não chega a ser uma surpresa completa o resultado de “Munique”, porque ele faz parte de um processo de amadurecimento iniciado em filmes como “Prenda-me se For Capaz” (2002) e “O Terminal”. Mais surpreendente é parte das reações à produção. Em vez de discutir as questões fundamentais levantadas pelo filme, parte da crítica prendeu-se a detalhes pouco significativos de infidelidade histórica para criar polêmica, como se a obra fosse um documentário, e não uma abordagem pessoal do cineasta. Em vez de elogiar a tentativa de uma visão equilibrada sobre os conflitos no Oriente Médio, autoridades israelenses e palestinas acusaram o filme de ser favorável ao inimigo (o que possivelmente demonstra sua justeza).
Para um pedaço da comunidade judaica, Spielberg tornou-se um Judas da causa israelense com “Munique”. Mais adequado seria compará-lo, nesse caso particular, a Jesus Cristo, outro judeu crucificado antes por suas virtudes do que por seus defeitos.

Nenhum comentário:
Postar um comentário