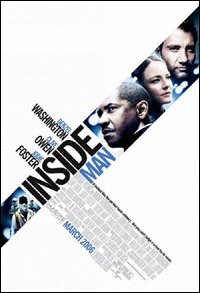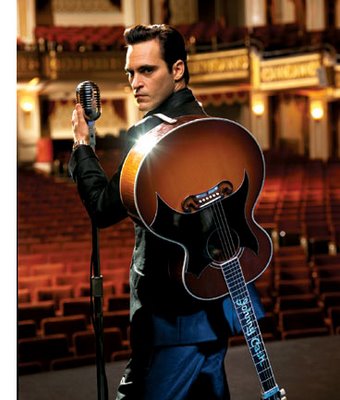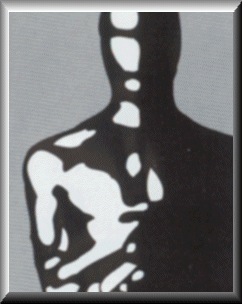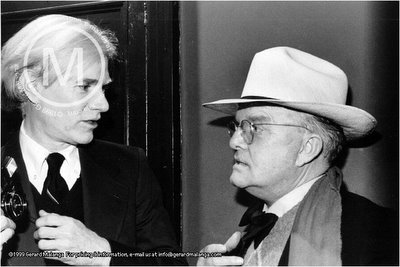Cartunistas e religiosos andam mesmo em pé de guerra. Depois da charge estampada em um jornal dinamarquês que mostra Maomé com uma bomba no turbante – e provocou rebuliços no mundo muçulmano –, a batalha da vez é entre o ator Tom Cruise, fervoroso seguidor da Cientologia, e pessoal do desenho animado “South Park”, produzido no Canadá. Diz-se por aqui que a estrela hollywoodiana ameaçou até não participar da divulgação de seu mais novo filme, “Missão Impossível 3”, se reprisarem o episódio do desenho que brinca com a religião dele. A cientologia não é a primeira e talvez não seja a última religião que “South Park” satiriza. Dessa turma, escrachadamente venenosa, nem Jesus escapa.
Acontece que, além das sátiras à cientologia, “South Park” alfineta ainda a sexualidade do ator, mostrando uma cena em que ele entra no armário e de lá não sai por nada no mundo. O desenho mostra uma multidão aglomerada na porta da casa de Tom e um policial que fala em um megafone: “Tom, você pode sair do armário. Ninguém ficará zangado com você. Saia daí.”. Nada de Tom sair. Chega, então, Nicole Kidman, bate na porta do armário e perde a paciência: “Tom, você não está enganando ninguém. Saia já.”
O episódio não foi reprisado, mas os diretores mandaram o seguinte recado: “Então, cientologia, você pode ter ganho ESTA batalha, mas a guerra de milhões de anos pela Terra apenas começou...você nos obstruiu por ora, mas a sua aposta medíocre para salvar a humanidade vai falhar!”. E ainda assinaram: “Trey Parker e Matt Stone, servos do escuro deus Xenu”, referência a um líder que governava as galáxias há 75 milhões de anos. Crença da religião, é claro.
 “South Park” perdeu ainda o cantor de soull Isaac Hayes, também seguidor da cientologia. Ele fazia a voz do personagem Chef e diz que largou o programa “por eles ridicularizarem comunidades religiosas inapropriadamente”. O curioso é que tanto a Paramount, que produz “Missão Impossível 3”, quanto o canal Comedy Central, que veicula “South Park”, pertencem à mesma empresa – a Viacom. Segundo a imprensa americana, nenhuma confirma que a retirada do episódio do ar tenha sido forçada por Tom Cruise.
“South Park” perdeu ainda o cantor de soull Isaac Hayes, também seguidor da cientologia. Ele fazia a voz do personagem Chef e diz que largou o programa “por eles ridicularizarem comunidades religiosas inapropriadamente”. O curioso é que tanto a Paramount, que produz “Missão Impossível 3”, quanto o canal Comedy Central, que veicula “South Park”, pertencem à mesma empresa – a Viacom. Segundo a imprensa americana, nenhuma confirma que a retirada do episódio do ar tenha sido forçada por Tom Cruise.A Igreja de Cientologia, religião fundada na década de 50 do século passado pelo escritor de ficção científica L. Ron Hubbard (1911-86), sempre deu o que falar. Já em 1981, a revista “Time” contou, em reportagem de capa, que um jovem de 24 anos havia se suicidado, jogando-se do décimo andar do hotel Milford Plaza, em Nova York, com os 171 dólares que lhe restavam depois de entrar para a igreja.
Inúmeros relatos de falências provam que fiéis acabam doando o que têm e o que não têm nas sessões que prometem curar problemas por meio de exercícios mentais. Eles crêem em espíritos chamados tethans, nascidos na mente de Hubbard. Aqui, Freud não tem vez. A cientologia é contra os tratamentos psiquiátricos ou psicanalíticos. Os seguidores também rejeitam a quimioterapia e até os remédios que amenizam as dores do parto.
Em 1983, onze líderes religiosos, incluindo a esposa de Hubbard, foram presos por conspiração. O mais curioso é que quando Hubbard faleceu, de derrame, a autópsia indicou doses do calmante Vistaril em seu sangue. Diz-se que no Brasil a religião aportou em 1994 – mas não pegou como nos Estados Unidos ou na Europa. Talvez os brasileiros não possam encarar as cifras exorbitantes que a cientologia suga de seus interessados. Ou talvez seja difícil para qualquer igreja competir com o bispo Edir Macedo.
No ano passado, a atriz Brooke Shields foi atacada por Tom Cruise depois de contar em seu livro “Down came the rain” que usou antidepressivos para se curar de depressão pósparto. A mulher dele tem com que se preocupar. Revistas americanas já começam a especular que o nascimento do bebê da atriz Katie Holmes, noiva de Tom, daqui a algumas semanas, será sem anestesia. Há mais um pequeno detalhe: para que a criança chegue ao mundo em clima de harmonia, a mãe não tem direito sequer a berrar de dor. O religião do pai sugere ainda que mãe e bebê sejam separados logo após o parto. Segundo Hubbard, nada de banho, carinhos ou chamegos no primeiro dia de vida. Basta enrolar a criança num cobertor branco e deixá-la sozinha. Coisa que mamífero nenhum compreenderia.
A cientologia domina a vida de Tom Cruise. Depois que ele contratou a própria irmã mais velha, Lee Anne DeVette, como assessora de imprensa, qualquer jornalista que deseje entrevistá-lo deve participar de um tour de cinco horas ininterruptas pelos estabelecimentos da religião, em Hollywood. Inclui-se na esta repórter de NoMínimo. “A imprensa mundial tem interpretado mal a religião; por isso, nosso dever é esclarecer as dúvidas”, prega Lee Anne, que age independentemente dos estúdios de cinema para os quais Tom trabalha.
O tour é marcado com antecedência pelo telefone – jamais se cita a palavra cientologia. Ao ligar para cada jornalista, uma simpática voz se apresenta como assistente de Lee Anne, marca o horário e providencia o transporte. Feito um dia antes da entrevista com ele, “o tour serve para que os jornalistas já saibam sobre a religião antes de falar com Tom”. A iniciativa tem deixado os executivos dos estúdios muito sem jeito, mas não há nada que eles possam fazer.
No meu caso, deixei Nova York, onde vivo, na véspera do encontro – o vôo entre as duas cidades dura cerca de seis horas. Às 11 da manhã de uma quinta-feira, um simpático motorista russo, contratado pelo escritório de Lee Anne, me encontrou na porta do hotel, em Beverly Hills. Quarenta e cinco minutos depois, ele me deixou no Celebrity Centre, em Hollywood. Com ares de palacete, a mansão foi construída em 1929 para abrigar o hotel Chateau Elysée, que hospedava as estrelas de cinema da época. Uma vez transformada em centro de cientologia, a mansão era usada por Hubbard, autor de dezenas de livros, incluindo o best-seller “Dianética”,sobre sua nova filosofia de saúde mental, origem da religião.
Ao anunciar meu primeiro nome, reparei que a recepcionista não conseguia pronunciá-lo; problema que, claramente, nada tinha a ver com a barreira da língua. Depois da quinta tentativa, pedi a ela apenas que avisasse a Lee Anne que a “repórter do Brasil” estava lá. Simpática, sem maquiagem e vestindo um discreto terno preto, Lee Anne apresentou-me a uma colega francesa, da igreja, à repórter inglesa que acabara de chegar de Londres e seria minha companheira de tour, conduziu-nos a uma saleta, serviu-nos uma deliciosa salada, com o prato sobre o colo, e colocou um DVD de uma hora de duração.
Ouvimos, então, o discurso do principal ministro da religião em uma festa da gala, na qual se vêem executivos da indústria cinematográfica e atores como John Travolta na platéia. Ele explica todos os tópicos da religião, como a importância dada à educação e à filantropia, a guerra declarada à indústria farmacêutica, às drogas (movimento que eles chamam de narconon) e aos princípios de psicologia e psiquiatria. Alguns conceitos, se escutados com superficialidade, fazem algum sentido. Outros, nenhum. “Tudo o que é novo tende a ser atacado”, diz Lee Anne, acrescentando que a cruz usada na logomarca da religião antecede a era cristã.
De lá, Lee Anne, sempre sorridente e cortês, guiou-nos pelas dependências da Igreja, que mais parece um centro cultural. Fomos obrigadas, então, a ler os textos explicativos de cada pôster e a assistir a cada vídeo nas televisões de plasma espalhadas pelas paredes; todos bem feitos e bem editados. Afinal, estamos em Hollywood. Lee Anne plantava-se ao nosso lado, esperando que lêssemos cada frase. Não dava para enrolar. Mede-se ainda o estresse dos visitantes numa máquina que lembra um detector de mentiras. Claro, sobrou para mim.
Segurei duas barras de ferro ligadas a um terminal que mostra um ponteiro. Uma menina, com um discurso robótico, disse para eu pensar em meus amigos. Pensei. O ponteiro foi para a esquerda, indicando que aquele pensamento não me causava estresse. Ela pediu, então, para eu pensar em alguém que me causasse um pouco mais de estresse. Pensei. De fato, o ponteiro foi para o lado oposto. Imediatamente, ela perguntou quem era esta pessoa e se eu estava interessada em tratar daquele problema, naquela hora, na frente da irmã de Tom Cruise. E ainda tentou me vender um livro de 28 dólares. Não conseguiu. Este mesmo teste é aplicado pela igreja em plena estação de metrô da Times Square, em Manhattan, o centro mais nervoso da cidade, onde a probabilidade de se achar alguém zen é nenhuma.
De lá, subimos para uma sala onde são treinados os jovens que vão usar esta tal máquina para medir o estresse dos outros. Eles usam bichos de pelúcia para simular testes. Ursos, leões e Mickeys ligados à tal máquina são uma cena, no mínimo, surreal. Uma vez formados, estes jovens conduzirão sessões segundo os ensinamentos da Dianética. A francesa disse que estas sessões podem custar de 20 a milhares de dólares. Em uma outra sala, Lee Anne nos mostrou uma imensa tabela pendurada na parede com a indicação dos diversos estágios seguidos pelos cientologistas. O primeiro é a desintoxicação, ou eliminação de produtos químicos do corpo. Estranhei a proposta, pois, no almoço, Lee Anne perguntou se eu preferia Diet Coke ou Sprite.
Depois de visitar a loja da igreja e recusar as ofertas de DVDs e livros (cujas capas e ilustrações lembram filmes de ficção científica como “Star Wars” e afins), fui levada por Lee Anne em seu próprio carro até uma organização, ajudada financeiramente por Tom, que lida com a questão da anti-psicologia e anti-psiquiatria. No carro, ela conta que ninguém precisa abandonar sua religião para filiar-se à cientologia. Agradeci a indireta, dizendo-lhe que “ser judia já dá um trabalhão...” Ainda brinquei: “Mais do que isso vai além da minha capacidade”.
Ao chegar à organização, somos recebidas por uma mulher muito falante, que nos mostra vídeos de reportagens sobre crianças americanas que cometeram assassinatos ou suicídios sob efeito de drogas, como Zolof e Prozac. De fato, este assunto tem ganho espaço na mídia americana, incluindo primeira a página do “New York Times”. Sem querer defender ou atacar as tais drogas, fiz duas perguntas. A primeira: “Onde estavam os pais que deixaram crianças sob efeito destas drogas por até sete anos?” A segunda: “Como estas crianças tiveram acesso a armas?” Fiquei sem respostas.
Depois de uma volta por uma exposição que condena Freud e a indústria farmacêutica, entramos novamente no carro de Lee Anne e vamos à sede administrativa da religião, uma bela casa reformada por voluntários. Foi lá que ela se despediu para recomeçar o tour com outros jornalistas. Deixou-nos nas mãos de um jovem de fala mansa, sorriso meigo e texto decorado. Na recepção, reparei um troféu com uma bandeira do Brasil recebida pela igreja de alguma organização brasileira. Que “coincidência”.
Nossa visita já durava cinco horas e ainda tínhamos pela frente mais fotos e textos, uma sala de troféus e outro vídeo de depoimentos. Depois de doze horas de vôo, derrubada pelo fuso horário, a jornalista inglesa pedia o fim da peregrinação. Também reclamei. Não adiantou. O jovem de fala mansa e decorada serviu-nos o jantar, às cinco da tarde e colocou mais um vídeo, em que Tom Cruise defende a limpeza do ar do Ground Zero, região de Manhattan onde caíram as Torres Gêmeas.
No vídeo, Tom Cruise conta também que cresceu achando que tinha dislexia (depois de ter mudado 15 vezes de cidade – conseqüentemente, de escola - nos primeiros quinze anos de vida) até a Igreja de Cientologia lhe ensinar que “não era nada daquilo e que crianças não devem ser taxadas disso ou daquilo”. Como se não bastasse, o rapaz pegou um livro infantil didático, desenvolvido pela igreja, e nos fez ler com ele. Àquela altura, eu já estava ligada no piloto automático.
Na saída, ganhamos uma bolsa para laptop, com uma etiqueta em que consta o nome de Tom Cruise de um lado e o nosso no outro. Dentro da bolsa, textos e DVDs sobre a religião. Ao ver o carro do russo me esperando na porta, mergulhei no banco de trás. “Nossa, vocês demoraram. Faz seis horas que a busquei no hotel!” - espantou-se o russo. “Eu já tinha até largado o expediente quando me telefonaram para apanhá-la de volta”. Nem tive forças para responder. Precisava resgatar as energias e a concentração para a entrevista do dia seguinte.
Horas depois de chegar ao hotel, recebi a visita da jornalista italiana que, junto comigo, iria entrevistar Tom Cruise e Steven Spielberg sobre “Guerra dos Mundos”. Ela estava uma pilha de nervos – acabava de sair do tour. Combinamos de não perguntar nada sobre a religião. E cumprimos. No dia seguinte, almoçamos com dois repórteres da revista alemã “Der Spiegel”, nos estúdios da Dreamworks, onde se deu a entrevista. Eles falaram com Steven e Tom antes de nós. Ao entrarmos na sala de entrevista, cruzamos com os companheiros de almoço que estavam saindo, com a cara emburrada. Estranhei.
Nossa entrevista foi acompanhada por Lee Anne e pela RP do filme. Sim, Tom Cruise é simpático, seu sorriso hipnotiza e ele é tão lindo quanto as imagens dos meus sonhos de adolescência. Contou que esteve na Amazônia e que quer passar um carnaval no Rio de Janeiro. Ainda assim, depois da tentativa de lavagem cerebral, aquele encanto todo não me convenceu totalmente. Li depois em “The New York Times” que os tais alemães tinham batido boca com Tom sobre cientologia, em plena entrevista – razão pela qual saíram bufando da sala. Por mais clichê que possa soar, os experientes jornalistas ainda não tinham aprendido o básico: sexo, futebol e religião não se discutem. Às vezes, a gente simplesmente lamenta.